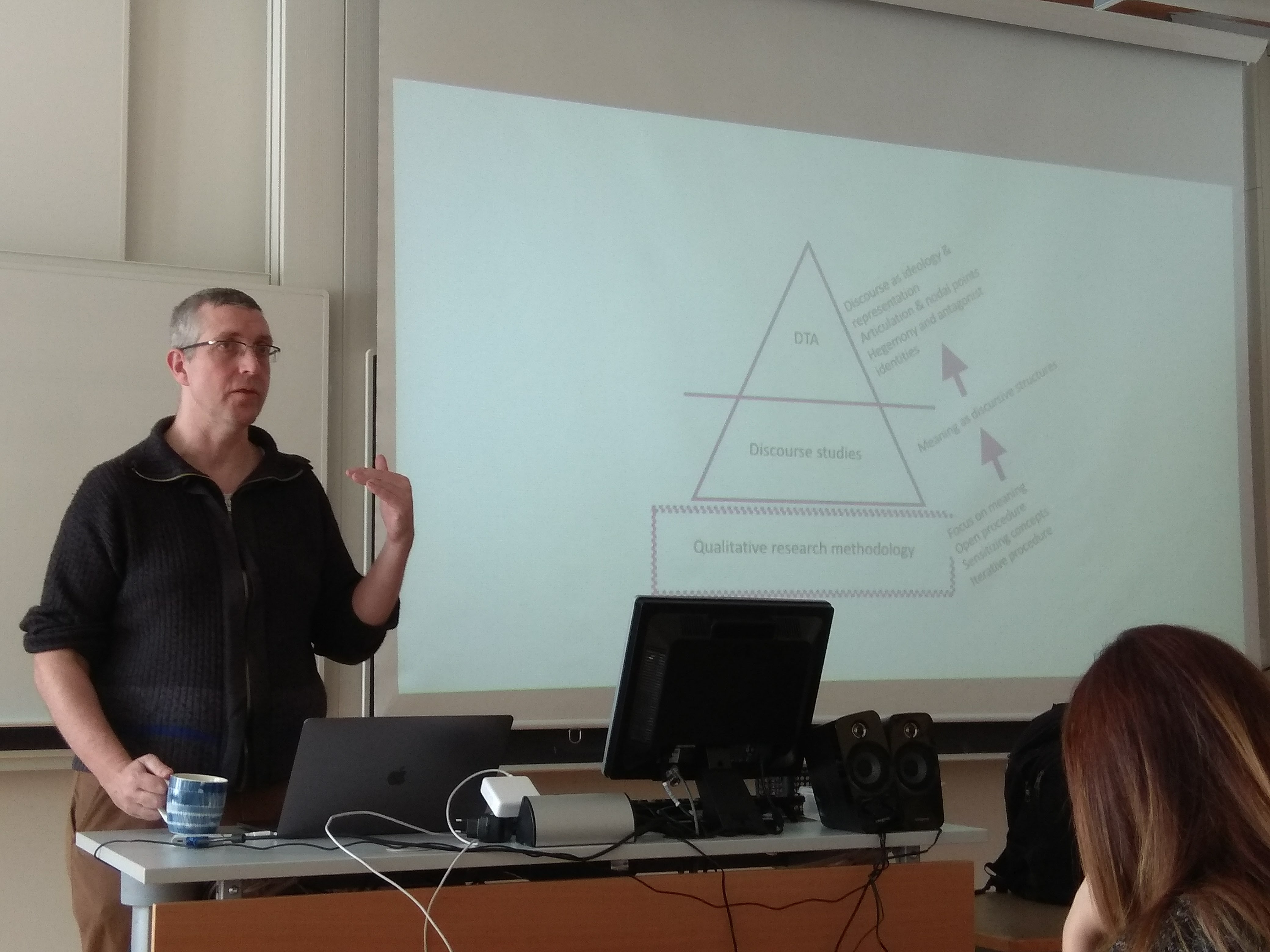Depois que conheci a Análise do Discurso (sobretudo Charaudeau e van Dijk, inicialmente) e Stuart Hall, passei a ter como pressuposto de vida a ideia de que não existe neutralidade. Nem mesmo as bulas de remédio são neutras, quanto mais matérias jornalísticas e pesquisas acadêmicas. Quem produz discurso sempre se posiciona, nem que seja ao dizer que não se posiciona, e que é neutro e objetivo. Ou afirmando em letras garrafais que não tem ideologia e que vai combater as “ideologias nefastas”. Como o cimento que cola os tijolos de uma casa, a ideologia – seja ela hegemônica, não-hegemônica ou até contra-hegemônica – está sempre ali presente em cada pensamento que produzimos, e não pode ser simplesmente descartada. No máximo podemos identificá-la, tomar “consciência” de sua existência, como dizia Gramsci, e a partir daí procurar refletir sobre ela e, se for o caso, se reposicionar, se contrapor, ou até mesmo assumir essa ideologia, em uma decisão que nunca é plenamente racional, e que passa por nossos sentimentos, conflitos pessoais, interações, enfim, por todas as mediações que nos fazem ser quem somos.
Por mais que para mim essa questão esteja mais do que esclarecida (é impossível ser neutro e pronto!), a negação da possibilidade de se posicionar ainda está a plenos vapores quando se trata da produção e difusão do conhecimento, o que inclui a escola (e a universidade) e o jornalismo. Projetos como o da Escola sem Partido partem dessa ideologia positivista que defende a objetividade como algo possível, necessário e alcançável, bastando para isso que o professor em sala de aula se abstenha de falar suas próprias opiniões e se atenha aos fatos. O que omite o pressuposto de que os fatos a serem relatados foram escolhidos entre inúmeros outros, e a própria forma como o relato é feito pressupõe um viés, que beneficia um lado e prejudica ou até invisibiliza outro (afinal, Portugal descobriu o Brasil ou invadiu o território, que já era ocupado por uma vasta população indígena à época? A ação dos EUA na Síria é um ato de combate ao terrorismo ou uma série de crimes humanitários?). Vieses que existem em todas as disciplinas e que definem o que se deve aprender.
A defesa da neutralidade, no fim das contas, contribui para o desconhecimento, para a falta de reflexão, limitando o aprendizado, e não o inverso, como os ideólogos dessa política querem fazer crer. E não importa o quanto se discuta, os argumentos rasos nem tentam ser razoáveis, basta “extirpar Paulo Freire” das salas de aula, combater o “marxismo cultural”, impedir que professores falem de “feminismo” e outras ideologias nefastas, e retomar as escolas de antigamente, que essas sim eram boas. Tá… E se fizermos exatamente o contrário dessa receita? E se incentivarmos cada vez mais a produção e a difusão de conhecimento engajados em causas sociais?
Pois é, nem só de Escola sem Partido e objetividade vive o mundo. A necessidade de assumir posicionamentos e de produzir uma ciência engajada tem sido amplamente discutida nos meios acadêmicos (pelo menos nas ciências sociais). Mais do que isso, discute-se a necessidade de a ciência deixar seus gabinetes e passar a se envolver diretamente em determinadas lutas, para efetivamente contribuir para gerar transformações sociais.
Trago três exemplos de discussões que vi recentemente em eventos acadêmicos que aconteceram no final do ano passado. O primeiro deles no Congresso da Ecrea, com a fala de uma das congressistas principais, Lina Dencik, que defendeu a necessidade de estabelecer estratégias de resistência na sociedade datatificada para se buscar justiça social no acesso aos dados. Fala que levou em conta o quanto estamos nas mãos de meia dúzia de empresas de tecnologia, que têm como principais ativos os nossos dados, nossas informações, que utilizam a seu béu prazer, lucrando bastante, para gerar mais dependência, mais lucro, e, como o caso da Cambridge Analytica demonstrou, para nos manipular deliberadamente com fins políticos. Para Dencik, os acadêmicos precisam deixar de se contentar em simplesmente estudar os dados fornecidos por essas empresas, como se fossem neutros, e ter postura crítica em relação a essas elas, ainda que isso signifique não ter acesso a todos os dados e sobretudo financiamentos que elas mesmas liberam para a pesquisa. Postura crítica que pode significar, então, não ter dinheiro para pesquisar, mas ter independência.
Em um painel sobre comunicação política também no Congresso da Ecrea, Natalie Fenton falou sobre um novo projeto que desenvolve na Inglaterra com comunidades vulneráveis, buscando compreender o que as pessoas pensam sobre o futuro, e o que podem fazer para ter mais esperança. Projeto motivado pela percepção de que as desigualdades sociais estão cada vez mais profundas, com uma fenda enorme entre os detentores do poder e os pobres, que são levados a não sonhar, a não ter perspetivas sobre para onde vão, sobre como podem ter um mundo melhor, o que gera um enorme vazio e descrença com relação a todas as instituições, ao governo, aos partidos (alguma semelhança com o Brasil não é mera coincidência). Fenton considera que a esquerda também contribuiu para difundir esse sentimento, ao não apresentar propostas alternativas e se distanciar das bases. No entanto, ela não rejeita o projeto político da esquerda, e sim propõe que este seja reformulado, com uma mudança no pensamento socialista que promova as liberdades, e que alimente um pensamento utópico anti-nostalgia, a partir de uma ação participativa que de fato leve em conta o que as pessoas pensam, e não o que os pesquisadores e os políticos acham que elas pensam. Uma ação liderada pelos próprios cidadãos “comuns” e que contribua para levá-los não apenas de volta ao trabalho, mas à política como algo essencial e transformador de suas vidas.
Por último, cito a fala de uma outra pesquisadora (não é à toa que são todas mulheres!), Charlotte Ryan, dos Estados Unidos (esta eu escutei em um congresso especificamente sobre ativismo, Mediaflows, também no final do ano passado). Ryan é reconhecida pesquisadora na área do “framing”, mas ultimamente tem se dedicado a estudar estratégias midiáticas na organização de movimentos comunitários, e defende que a produção de conhecimento não pode estar dissociada da atuação política. Por isso, ela participa ativamente de movimentos sociais enquanto investiga suas práticas, e argumenta que, desta forma, a pesquisa acaba sendo coletiva, pois os ativistas são coprodutores ativos do conhecimento ali produzido.
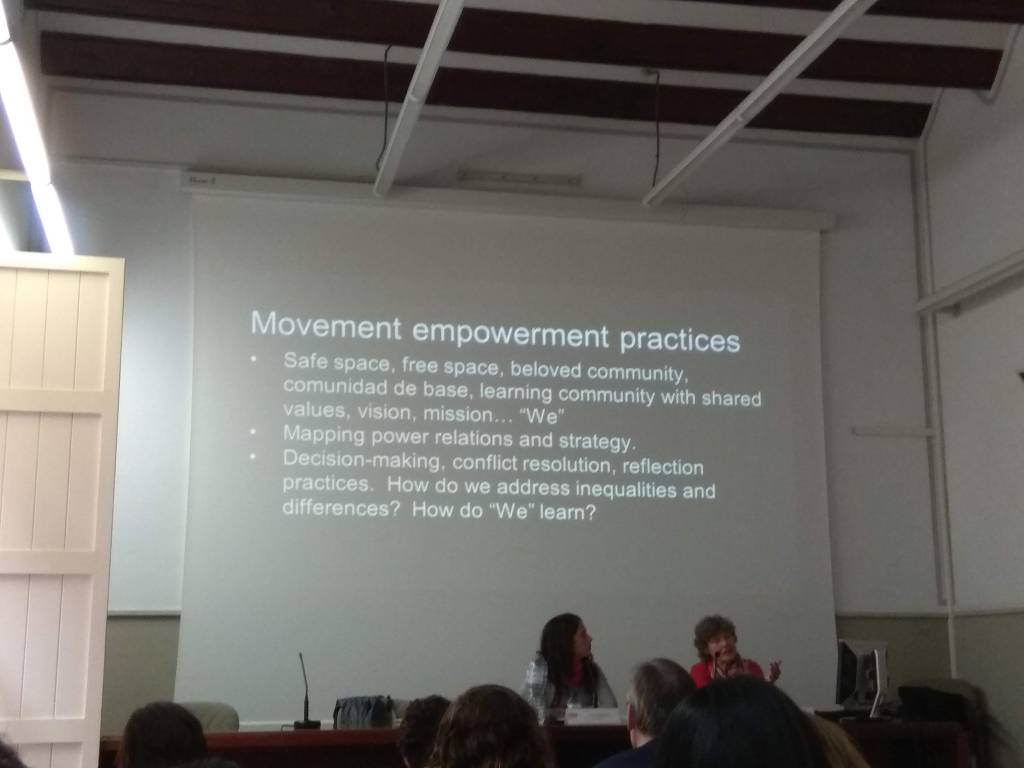
Como o objetivo deixa de ser meramente publicar em determinadas revistas “referees” e passa a ser contribuir para gerar transformações sociais, Ryan defende que a produção acadêmica precisa ser clara e compreensível para os ativistas e as comunidades em geral, tendo de adotar uma linguagem mais acessível, e que tudo o que for produzido seja sempre compartilhado com essas organizações, para que seus integrantes possam discutir os resultados e refletir sobre suas próprias práticas, de modo a aprimorá-las.
O problema, nos três exemplos, começa dentro do próprio campo acadêmico, que prioriza números, a tal objetividade e publicações em revistas de renome. Além de valorizar cada vez mais a aproximação com um certo mercado, que financia pesquisas para obviamente se beneficiar, não importando se elas prejudicam a população. Ou se uma parte muito volumosa da população deixa de ser objeto de estudos, porque, afinal, não está entre os detentores do poder, e por isso não interessa. Mas esses constrangimentos não podem nos paralisar. Produzir conhecimento que leve a melhorias de vida, sobretudo dos grupos sociais que mais sofrem injustiças sociais, não pode ser visto como algo secundário. Deve ser o objetivo principal de qualquer pesquisa, de qualquer área de atuação. E, sob essa ética, uma das obrigações do pesquisador, do professor e do jornalista é encontrar maneiras de superar as limitações e, assim, alcançar seus objetivos. Com a máxima transparência, ao indicar seus posicionamentos, seu ponto de partida, e seus objetivos, e com a máxima abertura para ouvir e incorporar a participação das pessoas mais diversas e plurais possíveis. Afinal, produzir e difundir conhecimento, querendo ou não, é sim uma ação política.

 Compartilho aqui texto que escrevi para a
Compartilho aqui texto que escrevi para a