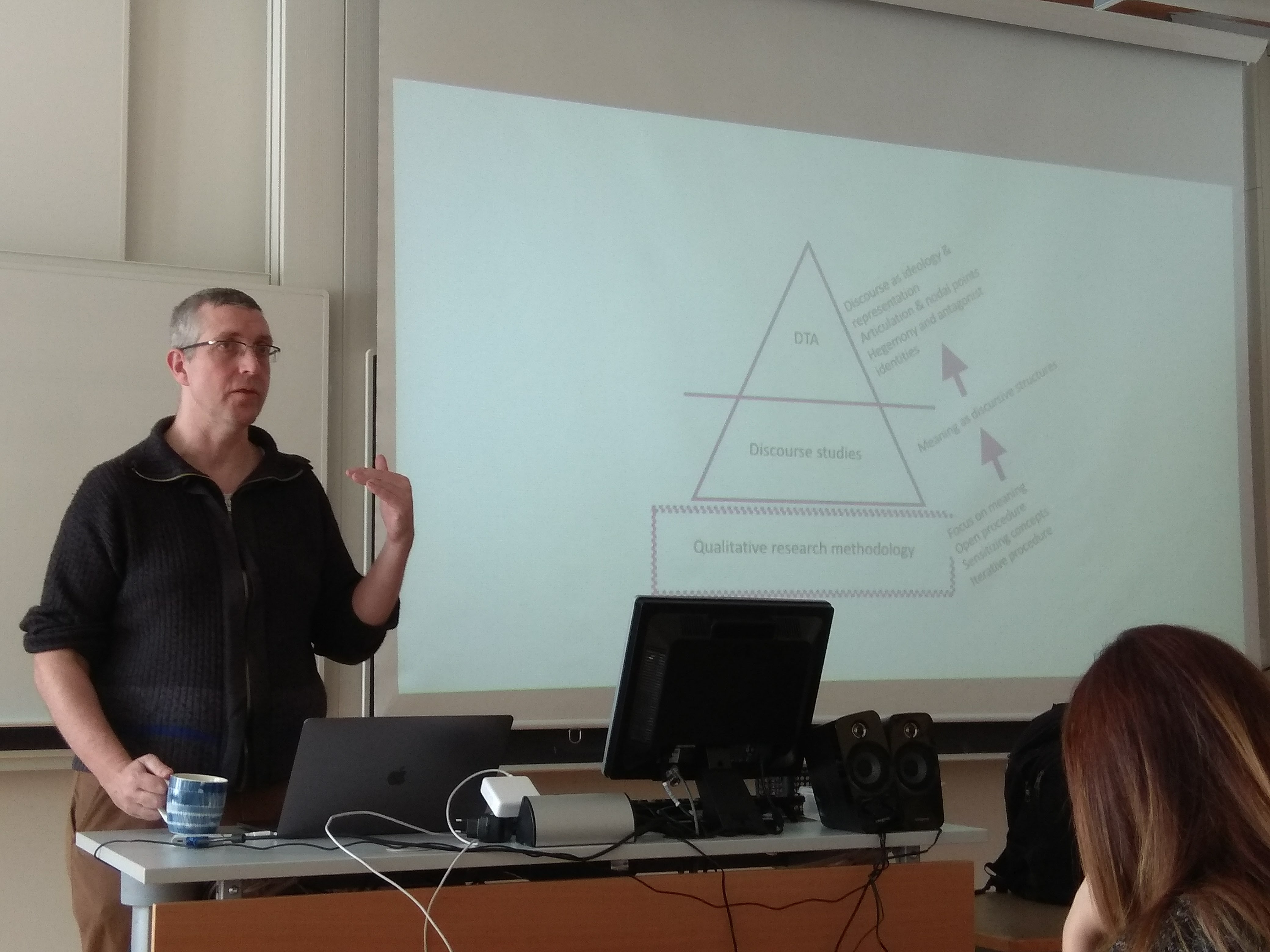O título traz uma pergunta que vive me rondando, até por ser professora de jornalismo e me preocupar enormemente com os jovens que ingressam no curso e não têm culpa do cenário decadente em que estão entrando. Será que o jornalismo vai morrer? O que será do jornalismo daqui a 10, 20 anos? De repente, eis que me deparo com essa questão, da forma mais direta possível, em uma palestra do professor Silvio Waisbord, no Congresso da ICA, em Washington. E, para o meu desespero, eis que a resposta dele não foi das mais otimistas: “…é, se continuar do jeito que está, o jornalismo tal e qual o conhecemos está com os dias contados”. Será mesmo?

Eu mesma, sempre que sou perguntada sobre isso, tento ser otimista e respondo com uma outra pergunta: “você consegue imaginar uma democracia saudável sem jornalismo?”. Respondo isso porque houve mesmo um tempo em que se considerava essencial, para a democracia, a existência de meios de comunicação que atuassem como os mediadores da sociedade, como cães de guarda do interesse público, revelando tudo o que pudesse ser considerado de interesse público para que a população, ciente e consciente, pudesse decidir o seu próprio destino. Terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson chegou a afirmar que, se tivesse de optar entre um governo sem jornais, ou jornais sem um governo, não hesitaria em escolher a segunda opção. A frase, dita em 1787, parece ter sido invertida nos dias de hoje: governantes têm feito de tudo para acabar com o jornalismo, desqualificando-o de todas as formas possíveis (os exemplos mais imediatos que vêm à cabeça são Trump e sua versão tupiniquim, Bolsonaro, mas infelizmente não são os únicos).

Claro que a crise do jornalismo não é causada só pelo desprezo ou pelo ódio de certos governantes. A relação entre os media e o poder nunca foi fácil, já que os jornais se estabeleceram, sobretudo a partir do século XX, como vigilantes do poder, sempre atentos para apontar distorções, o que mais de uma vez levou à queda de governantes. O caso Watergate é um dos exemplos mais lembrados, mas também temos a nossa versão caseira – a queda de Fernando Collor de Melo, em 1992, impulsionada, entre outras coisas, pela entrevista de seu irmão, Pedro Collor, à revista Veja.
A crise do jornalismo decorre de um contexto muito mais amplo, que tem a ver com a mudança no consumo mediático e com a quebra do modelo de financiamento dos meios de comunicação (antes baseado na publicidade) – falei um pouco sobre isso em um outro post. Entre os efeitos, vemos cada vez menos projetos jornalísticos em funcionamento, se restringindo aos “grandes”, com o sumiço dos empreendimentos locais, mas, ao mesmo tempo, assistimos o surgimento de inúmeros atores no ambiente midiático, que passam a difundir conteúdo jornalístico, mesmo que, na maioria das vezes, seja um conteúdo híbrido, misturado com humor e ativismo político.
Com as grandes empresas monopolizando o cenário, mas em uma situação de fraqueza, já que, sem dinheiro, as redações estão ficando menores, e os jornalistas são cada vez mais obrigados a fazer de tudo um pouco, o que os impede de aprofundar o que quer que seja, as grandes reportagens se tornaram mais raras, e passou a proliferar conteúdo declaratório, sem comprovação de nada, como recentemente problematizou a ombudsman da Folha, o que torna o jornalismo um caos cada vez mais descartável. Para Waisbord, ou o jornalismo volta a ter qualidade, retomando seu papel social de apresentar histórias de interesse público, ou o caminho para o fundo do poço não vai ser interrompido.
Mesmo nesse caos, o jornalismo, enquanto instituição e prática, segue com a ladainha de que ter qualidade é se ater ao fato, ser objetivo, descritivo, apresentar os diferentes lados da história, sem envolvimento nem qualquer lance de emoção. A prisão aos referenciais normativos tradicionais não permite que o jornalismo saia do seu pedestal e deixe de agir como “babá” da audiência, mantendo o monopólio do que é notícia, como argumentou outra grande teórica do campo, Barbie Zelizer, em outra palestra da ICA.

Claramente, o caminho atual não tem volta. O jornalismo não vai voltar a monopolizar a notícia, nem adianta querer empurrar goela abaixo do público notícias que não lhes interessa. As pessoas estão cada vez mais personalizando seu consumo mediático, o que fazem tanto ao buscar assuntos que lhes interessa, como por interferência dos algoritmos das redes sociais, que, aí sim, “escolhem por nós” o que iremos ver, e isso não parece que irá mudar. Ainda assim, vale seguir o conselho de Waisbord e pensar um pouco em como era esse jornalismo relevante, para refletir sobre os rumos que podem ser tomados para recuperar o campo.
Uma das características desse velho jornalismo era que ele caminhava de mãos dadas com lutas sociais encampadas por minorias. Essa característica é realçada, por exemplo, em diferentes espaços do Newseum, um museu em Washington dedicado às notícias, o principal produto do jornalismo. A luta pelos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos, a luta das mulheres pelo voto e pela igualdade, a luta em prol da comunidade LGBT, a denúncia contra a guerra e contra a fome. Todas essas lutas ganharam protagonismo pelas mãos do jornalismo, e isso é celebrado no museu, o que nos enche de orgulho. Lá, não é destacada a estratégia dos clickbaites nem a inclinação em apoiar posições do mercado, mesmo contra os mais vulneráveis. Isso que se tornou o jornalismo tradicional nunca foi o ideal do jornalismo. Por isso, vale perguntar: quando o jornalismo se abraça com valores de um liberalismo econômico, definidos pelo mercado, e abandona os valores sociais e da cidadania, passa a servir para quê?

A saída passa, assim, para começo de conversa, em se redefinir o jornalismo, ou melhor, os jornalismos. Porém, passa também por redefinir as estratégias de abordagem, deixando de achar que o público não pensa por si só, não é autônomo. Nesse processo, tenho defendido (e fiquei feliz demais ao saber que tanto Barbie Zelizer, como outro autor muito importante nos estudos do jornalismo, Nick Couldry, partilham o mesmo pensamento) que se deixe de lado de uma vez por todas o ideal normativo da objetividade, o que significa deixar de querer parecer que não há opinião implícita nas notícias, não há viés, e que tudo o que está ali é a mais pura e profunda verdade. O público não acredita mais nesse canto da carochinha, o que é bom, mas ao mesmo tempo aprofunda o caos, já que tudo pode ser alvo de desconfiança (um ambiente mega fértil para a proliferação de desinformação). Por outro lado, ao expor exatamente seu ponto de partida, sua visão de mundo, e deixar de lado a hipocrisia, os meios de comunicação podem recuperar a confiança de parte do público, o que deve ser feito, ainda, com a abertura real dos espaços de interlocução com essa audiência, que quer participar de verdade das decisões editoriais e da produção da notícia, falar e ouvir respostas, e não apenas ocupar um espacinho do “painel do leitor”.
Os meios alternativos podem ter um papel muito importante nesse sentido, mas também com imensos desafios a enfrentar, sobretudo no que diz respeito ao financiamento e à qualificação dos integrantes das equipes, para produzir conteúdos mais contextualizados e interessantes. Conhecer experiências bem-sucedidas nos dá um bom alento, mas ainda está longe de significar que elas salvarão o jornalismo. De todo jeito, prefiro continuar otimista, e acreditar que não há como ter uma democracia desenvolvida sem um bom jornalismo. Nós, os jornalistas e pesquisadores da área, temos o dever de retomar a importância da profissão.
P.S.: Viajei para participar do Congresso da ICA com o apoio da FLAD (Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento), de Portugal.