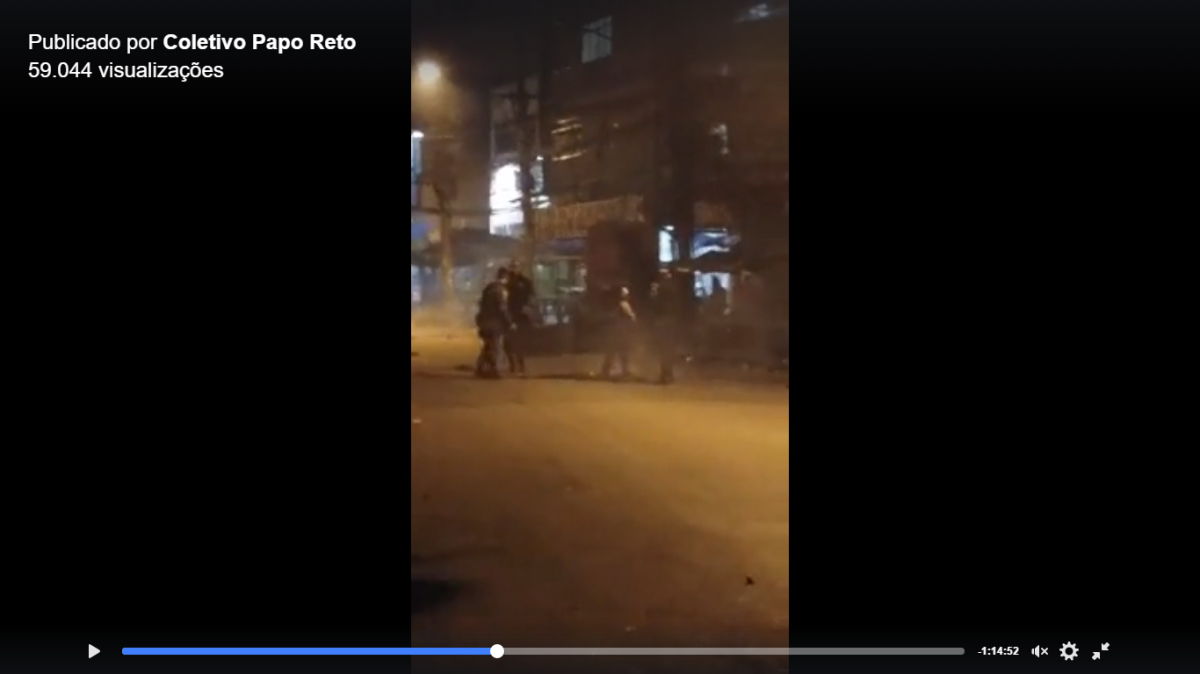A pesquisa em ciências sociais é muito relacionada, no senso comum, a livros, livros e mais livros e a um trabalho de campo que depois leva a análises muitas vezes qualitativas, que, em tese, poderia livrar o pesquisador do uso de softwares e aplicativos nem sempre fáceis de usar. Não que isso não possa ser verdade e seja possível fazer uma investigação de doutorado imensa mergulhado em um mundo de recortes de jornais, livros empilhados e um esquemão grudado na parede. Quem prefere trabalhar assim, nada contra. Mas hoje existe uma série de ferramentas que ajuda bastante a evitar o caos e a organizar melhor o trabalho, facilitando até mesmo a fazer a nefasta lista de referências bibliográficas sem traumas. Ainda sou uma mera aprendiz destes aplicativos, mas posso dizer que já não vivo sem eles e vou falar de dois aqui para mostrar como eles podem ser úteis.
O primeiro é o EndNote, um aplicativo usado para fazer as tais referências bibliográficas. A versão de desktop é paga, mas a online é gratuita e é a que estou usando sem problemas. A Universidade do Minho, por meio de seu serviço de bibliotecas, preparou um tutorial para ensinar a lidar com o programa. Então, não vou ensinar a usá-lo, mas vou falar de suas funcionalidades.
Depois de criar uma conta, o pesquisador deve começar a alimentá-la com as referências bibliográficas que quiser. E pode fazer isso manualmente, digitando item por item do que quer referenciar, ou importando a referência seja do Google Books, que a disponibiliza já no formato apropriado para o EndNote, seja da revista acadêmica que publicou o artigo, seja de repositórios online que também disponibilizem a citação pronta. Essa parte do preenchimento pode dar algum trabalho, mas é para o bem: depois de feito, você tem lá a referência, que pode ser acionada sempre que necessário ao se digitar o trabalho no Word. Isso mesmo, o EndNote disponibiliza uma extensão para o Word (Windows), pelo qual é possível puxar a referência e, tcharam, ela aparece tanto no meio do texto, direitinho, no formato que se deseja, por exemplo pela ABNT é o sobrenome em caixa alta e o ano da publicação (ATTON, 2011), ou pela APA vem o sobrenome em caixa alta e baixa e também o ano (Atton, 2011), e ao final aparece a lista de referências completas e organizadas, seja por ordem alfabética, seja por ordem de aparição no texto, do jeito que se preferir. E, melhor, é possível alterar a formatação das referências mesmo depois de inseri-las, no momento que for mais conveniente. Enfim, não dá para viver sem um programa como este. Por fim, entre as boas vantagens, é possível compartilhar as referências com colegas, seja parcialmente ou completamente, o que também é uma boa vantagem.
Há também outras opções similares, como o Mendeley, que é totalmente gratuito. Vale experimentar para decidir com qual se adapta melhor.
Agora vou falar de um programa que ajuda a organizar a análise de dados em pesquisas qualitativas. Eu disse organizar, porque a análise quem faz ainda é o pesquisador, não sai automaticamente. Trata-se do NVivo, um software infelizmente pago, mas que apresenta uma versão para estudantes um pouco mais em conta – para quem tem bolsa de estudos, acaba por ser um investimento às vezes necessário.
Bem, também não vou explicar como se usa o programa, há tutoriais em vídeo (mais um aqui) que podem ajudar. Trata-se de uma ferramenta onde é possível puxar conteúdo midiático seja em texto, imagens, áudio ou vídeo, definir categorias para interpretá-los e, a partir daí, analisá-los à luz de certa perspectiva teórico-metodológica que oriente o trabalho. Vou dar um exemplo prático: decidi aplicar análise de conteúdo em uma primeira abordagem que estou fazendo sobre os grupos de jornalismo alternativo que pesquisa. Para isso, com a ajuda de uma extensão do NVivo para o Chrome, o NCapture, puxei as páginas do Quem Somos de todos os grupos que estou estudando, alguns em seus sites, outros no Facebook. Depois disso, fui ler cada texto de autoapresentação e comecei a marcá-los com certas categorias que defini, a partir dos estudos sobre o jornalismo e sobre mídia alternativa, bem como a partir do que eles mesmos apresentavam. Categorizar é tentar encontrar chaves-de-leitura que possam ser expandidas para mais de um grupo, ainda que eles tenham propostas bastante diferentes. É a busca por encontrar regularidades, pontos em comum, que nos ajudem a explicar porque eles estão agrupados nesta categoria maior que é a do jornalismo alternativo. Este é um processo longo, cansativo, bastante subjetivo, mas que também não pode ser desconectado de certos critérios claramente expostos na definição metodológica. Enfim, dá um trabalho imenso.
Mas depois de tudo categorizado, é possível enxergar, tanto em números como nos trechos destacados em cada autoapresentação, respostas às perguntas que precederam todo o estudo. No meu caso, a partir da pergunta principal, como os grupos de jornalismo alternativo definem a sua atuação. Mais à frente, trago um resumo dos resultados que tenho alcançado.
Outra funcionalidade legal o programa proporciona é fazer aquelas nuvens de palavras fantásticas, sem grande trabalho. É você decidir em que fontes pesquisar, definir a quantidade de palavras, a partir de que tamanho, até excluir as que não vão influenciar nada (preposições, por exemplo).
Há inúmeros outros softwares que cumprem a mesma função. Ainda não mexi neles, só vou citar os nomes: o R, que é uma ferramenta gratuita, aparentemente é muito versátil, mas exige que o pesquisador saiba manejar um pouco programação (tutorial aqui). Também tenho colegas que usam o Atlas.ti.
Não dá para parar no tempo nem achar que basta um conhecimento teórico e erudito para fazer pesquisa. As ferramentas também são fundamentais para que tudo aconteça da melhor forma. E porque não usar ferramentas digitais para tornar este trabalho mais abrangente?

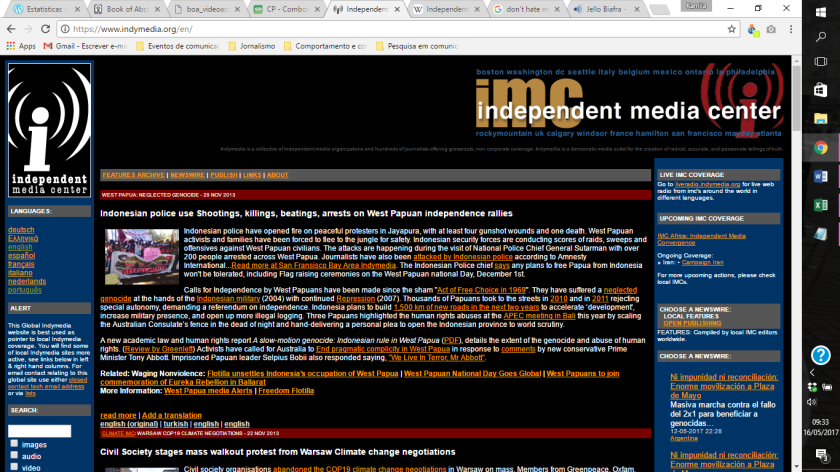
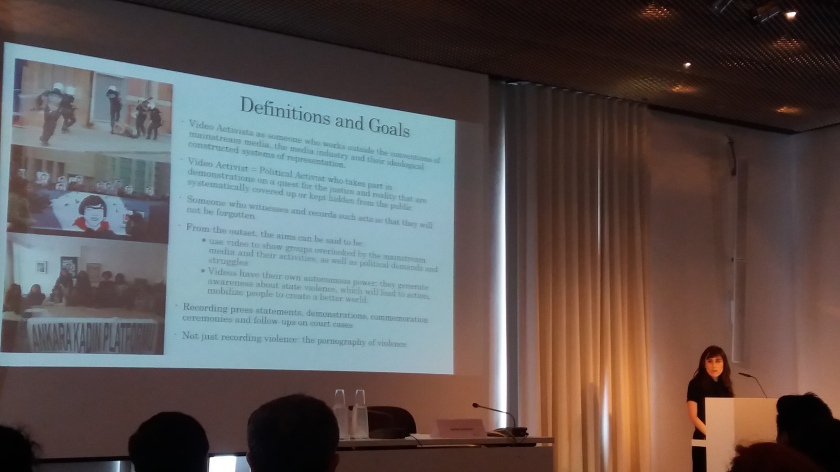 uma das conferencistas, falou da situação do colega e reuniu depoimentos dos participantes do encontro, pela liberdade dele, para montar um vídeo e tentar amplificar a rede de solidariedade ao ativista, usando a hashtag #FreeKazim.
uma das conferencistas, falou da situação do colega e reuniu depoimentos dos participantes do encontro, pela liberdade dele, para montar um vídeo e tentar amplificar a rede de solidariedade ao ativista, usando a hashtag #FreeKazim.